“A produção indígena na cena cultural é, de fato, cada vez mais importante no Brasil, mas ainda muito aquém de suas imensas possibilidades”, afirma Bruce Albert, um dos autores do livro. Confira uma entrevista com o etnólogo francês
por Felipe Milanez, National Geographic
Da amizade de 30 anos entre o etnólogo francês Bruce Albert e o xamã e porta-voz do povo Yanomami Davi Kopenawa nasceu A Queda do Céu, lançado agora pela Companhia das Letras no Brasil. 720 páginas, R$ 69,90). Publicado originalmente em francês em 2010, na prestigiosa coleção Terre Humaine, o livro é um libelo contra a destruição da Floresta Amazônica e traz as meditações do xamã a respeito do contato com o homem branco, ameaça constante para seu povo desde os anos 1960.
Davi Kopenawa nasceu por volta de 1956, em Marakana, grande casa comunal situada na floresta tropical de piemonte do alto Rio Toototobi, no norte do estado do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela. A vocação de xamã desde a primeira infância, fruto de um saber cosmológico adquirido graças ao uso de potentes alucinógenos, é o primeiro dos três pilares que estruturam o livro. O segundo é o relato do avanço dos brancos pela floresta e seu cortejo de epidemias, violência e destruição. Por fim, os autores trazem a odisseia do líder indígena para denunciar a destruição de seu povo. Recheada de visões xamânicas e meditações etnográficas sobre os brancos, A Queda do Céu não é apenas uma porta de entrada para um universo complexo e revelador. É uma ferramenta crítica poderosa para questionar a noção de progresso e desenvolvimento defendida por aqueles que os Yanomami – com intuição profética e precisão sociológica – chamam de “povo da mercadoria”.
Na entrevista abaixo, o jornalista Felipe Milanez entrevista Bruce Albert, doutor em antropologia pela Université de Paris X-Nanterre e pesquisador sênior do Institut de Recherche pour le Développement (IRD, Paris). Albert participou em 1978 da fundação da ONG Comissão Pró-Yanomami (CCPY), que conduziu com Davi Kopenawa uma campanha de 14 anos até obter, em 1992, a homologação da Terra Indígena Yanomami. Viaja à terra yanomami praticamente todos os anos, há quatro décadas.
Como surgiu a ideia do livro e como ele pode inspirar novos trabalhos literários de lideranças indígenas?
Bruce Albert: A ideia do livro nasceu durante a invasão garimpeira da terra yanomami no fim dos anos 1980. O caos sanitário e ambiental era total. A sobrevivência do povo Yanomami no Brasil estava em jogo. Davi estava profundamente angustiado e revoltado. Pensou que, para evitar o fim de seu povo devia contar sua história e transmitir seus conhecimentos. Ele sabia que, para os brancos, o que não está escrito não existe. Queria, portanto, que as palavras yanomami, inaudíveis nas cidades, saíssem da floresta e se espalhassem pelo mundo afora na forma de um livro. Nós já éramos amigos, engajados contra o garimpo, eu falava yanomami o suficiente. Ele decidiu pedir minha ajuda para escrever suas palavras, que são também as antigas palavras do seu povo. Inventamos assim juntos este livro “falado-escrito” que acabou tecendo uma mensagem xamânico-política com um projeto de descolonização da escrita etnográfica.
O que acho fundamental nesta parceria, foi justamente essa vontade de cruzar, em pé de igualdade, nossas perspectivas intelectuais num projeto político-etnográfico comum. Eu acho que esta forma de etnografia colaborativa tem bastante potencial para divulgar a história e o pensamento de muitos povos sem acesso à escrita. Mas trata-se de uma forma transitória. Muitos letrados indígenas já surgiram e continuam surgindo e estão hoje, Brasil afora, inventando seus próprios gêneros de autoetnografia, estilos de escrita e formas literárias. É um movimento de reapropriação da etnografia que tem como pano de fundo o surgimento progressivo dos povos indígenas como sujeitos políticos desde os anos 1970.
O que mais marcou a sua vida na sua relação com os yanomami e como o pensamento deles se situa em meio a grande diversidade de pensamentos indígenas no Brasil?
Bruce Albert: Encontrei os yanomami muito jovem, há mais de três décadas, e obviamente marcaram muito minha vida intelectual e pessoal em muitos aspectos. Acho que a lição mais interessante que podem nos dar os yanomami – os povos indígenas em geral – não remete nem as experiências individuais, necessariamente anedóticas, nem a saberes específicos, inevitavelmente recortados ao sabor de nossas fantasias utilitaristas.
O que os índios nos ensinam fundamentalmente é que existem outros universos humanos e não humanos possíveis e pensáveis, e que o nosso mundo, tão arbitrário quantos os outros e consideravelmente mais mortífero, não é necessariamente o mais digno de apreço. Este efeito de comparação perturbador constitui uma contribuição fundamental para destabilizar a cegueira de nosso narcisismo autodestrutivo e assim, tal vez, garantir nossa sobrevivência intelectual e física. Sem isso, estamos condenados à morte dos xamãs e à queda do céu, como nos ensina Davi Kopenawa. Esta é a vocação do livro, além de sua dimensão etnobiográfica.
O que era “ecologia” para o senhor, na época em que conheceu Davi? E o que é ecologia hoje?
Bruce Albert: Conheci Davi em 1978, tinha 26 anos e “ecologia” era ainda um tema muito incipiente. Suponho que, na época, eu não pensava muito além das noções de senso comum da minha sociedade de origem. Inventamos a noção de “natureza” como um vasto espaço exterior a humanidade ocidental – um espaço “selvagem” dedicado ao desbravamento e à exploração sem limites. Este imenso espaço misterioso e ameaçador circundava o espaço outrora restrito da (boa) sociedade e da “civilização”. Mais tarde a perspectiva se inverteu. Com o avanço da industrialização, chegamos à noção de “meio ambiente”, uma “natureza” vencida e transformada em uma variedade de espaços cada vez mais residuais, englobados pela sociedade dominante (reservas, parques, etc).
São estas nossas categorias que a contra-etnografia do Davi Kopenawa contribui a descontruir com muita perspicácia. Ele desafia, por um lado, nossa velha categoria de natureza através de sua tradução da urihi a pree, a “terra-floresta mundo”, que engloba uma fervilhante sociedade de seres visíveis ou invisíveis, humanos e não-humanos. Ele sugere que nossa noção de “ecologia” deveria hoje se aproximar desta perspectiva anti-antropocêntrica para poder conversar com a tradição xamânica indígena. Por outro lado, ele reduz nossa categoria de “meio ambiente” a uma fórmula impiedosa : “é o resto do que vocês ainda não destruíram”.
Vivemos hoje uma crise política e econômica, e sobretudo uma grande crise ecológica. Que perspectivas de saída podemos vislumbrar através do ponto de vista yanomami?
Bruce Albert: Davi Kopenawa propõe uma poética, humorada e muito certeira etnografia de nosso absurdo fascínio por mercadorias que ironiza chamando de “mercadorias-namoradas”. Além disso, ele nos oferece um sábio diagnóstico xamânico sobre a queda do céu cujas conclusões são basicamente as mesmas que a dos cientistas do IPCC: se persistimos com nosso mito do crescimento infinito e nossa economia predadora de combustíveis fósseis, chegaremos a um catástrofe socioambiental de magnitude ainda pouco imaginável para o público em geral, porém já muito bem pensada pelo xamãs dos povos indígenas. A mensagem é, portanto : ter a audácia de pensar/construir um novo mundo para deixar de ser o grotesco e perigoso “Povo da Mercadoria” descrito pelos xamãs yanomami.
Como o senhor analisa a atual conjuntura dos povos indígenas no Brasil?
Bruce Albert: A situação é a pior possível. Da novela do genocídio dos guarani à mortalidade infantil subsaariana dos yanomami ou dos povos do Vale do Javari, assistimos hoje a uma volta inquietante aos tempos do indigenismo sombrio da ditadura. O modelo de economia de commodities, apresentado como novo milagre desenvolvimentista pelos governos recentes, não passou de um lamentável remake – em versão chinesa – dos sonhos falidos da ditadura. Sob a fachada de um “progressismo” traído, os velhos tempo neocoloniais vigoram como nunca para os povos indígenas.
A antropologia às vezes é vista como uma ciência que fala de situações muito específicas, e difíceis de serem generalizadas. No livro, a crítica da Davi parece estender-se para um plano geral, e somos convidados a refletir sobre o mundo através da visão yanomami. Há uma mudança, nesse sentido, de rumos na antropologia?
Bruce Albert: A (nossa) antropologia escreve em nome dos outros e idealmente o faz (ou deveria fazê-lo) com empatia, solidariedade política e com um esforço de tradução à altura intelectual de seus interlocutores. Resta que, mesmo assim, guarda um indevido monopólio sobre a descrição e a publicação dos mundos vividos alheios e sobre a antropologia dos outros. Esse caminho não é mais sustentável. Como falei, os povos indígenas da Amazônia emergiram, há algumas décadas, enquanto sujeitos políticos no cenário nacional e internacional. Esta situação está aos poucos abrindo espaço não somente às crescentes experiências de autoetnografia e de etnografia colaborativa, como mencionei, mas também à possibilidade de uma contra-etnografia indígena sobre nosso mundo, portanto de uma antropologia reversa, como a elaborada por Davi Kopenawa. A (nossa) antropologia, ao dialogar cada vez mais com os intelectuais indígenas num pé de igualdade, deveria portanto tornar-se cada vez mais simétrica e fonte de cruzamentos conceituais.
Nos últimos anos os povos indígenas têm sido responsáveis por uma grande e intensa produção cultural. O que tem impedido que a produção seja ainda maior e qual o papel da academia nesse sentido?
Bruce Albert: A produção indígena na cena cultural é, de fato, cada vez mais importante no Brasil, mas ainda muito aquém de suas imensas possibilidades : existem no pais 243 povos falando mais de 150 línguas. A razão essencial, me parece, é que, no Brasil de 2015, a maior parte dos povos indígenas tem ainda que lutar para sobreviver fisicamente face a espoliações e violências. Acho portanto que os antropólogos, além da sua solidariedade política, têm mesmo, nestes tempos críticos, que intensificar os seus esforços para apoiar o movimento indígena de expressão autônoma na escrita, artes plásticas, música, vídeos, etc. Existem experiências históricas neste sentido no Brasil, como o projeto Vídeos nas Aldeias ou a série Narradores do Rio Negro, do Instituto Socioambiental. Me parece que o mundo acadêmico poderia se abrir mais à novas experiências etnográficas centradas na autoria indígena. Espero que A Queda do Céu seja um incentivo para isto.
Nesse ano também foi lançado o livro de Ailton Krenak, alguns anos atrás foi Álvaro Tukano. São alguns exemplos de livros produzido por indígenas de uma mesma geração (hoje com 50 a 70 anos), que foram jovens lideranças nos anos 1980 e que lutaram para alcançar os direitos que estão hoje na Constituição Federal. Como o senhor vê essa geração, o que mudaram e romperam com a anterior, e o que deixam para as próximas?
Bruce Albert: As lideranças indígenas da geração do Davi Kopenawa, formam uma geração histórica, de pioneiros das lutas e da organização do movimento indígena. É uma geração de líderes carismáticos, cujas singularidades fora do comum foi capaz de representar simultaneamente seus povos e os povos indígenas da Amazônia de maneira mais ampla. A partir dos anos 1990, estas figuras emblemáticas, até então solitárias, começaram a abrir espaço para as gerações mais novas, que passaram por experiências diversas de escolarização e constituíram o viveiro das inúmeras associações indígenas que se formaram desde então. A trajetória do Davi é exemplar nesta geração. Sua pequena infância se desenvolveu longe do brancos, foi depois alfabetizado por missionários evangélicos, trabalhou em sua juventude na FUNAI como intérprete, tornou-se uma liderança de destaque nacional e internacional no anos 1980-1990 e, enfim, promoveu a fundação da Hutukara Associação Yanomami em 2004. No livro, Davi relata com uma emoção vibrante todos os momentos chaves desta incrível odisseia entre dois mundos, do medo que teve dos primeiros brancos vistos na infância, até sua primeira visita a Nova York. É realmente um depoimento fundamental para a história dos Índios no Brasil, mas também, simplesmente, para a história do Brasil contemporâneo.
—
Imagem: Capa do livro A Queda do Céu
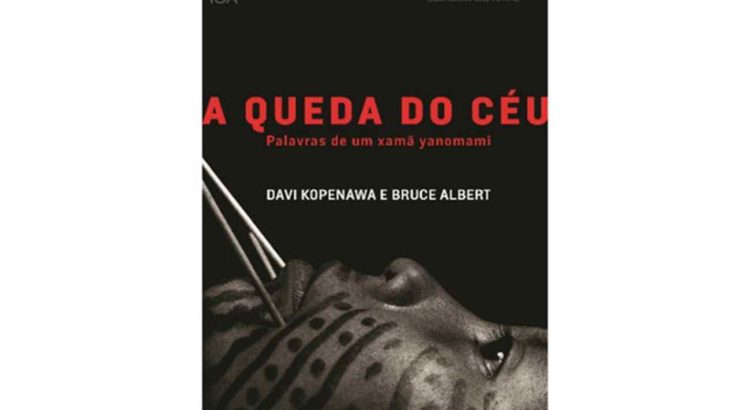

 Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando
Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando