O relatório da Comissão Nacional da Verdade causou reações extremadas. Mas suas recomendações apontam para consolidação da democracia e de novas informações sobre a história do país
Por Vitor Nuzzi, RBA
Longe de propor uma volta ao passado, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), apresentado em dezembro, pode ser visto como uma tentativa de aumentar a compreensão da sociedade para um período histórico e, quem sabe, mudar comportamentos, já que o cotidiano, embora sob um ambiente democrático, ainda produz discriminação, desaparecidos e torturados. “Quase tudo já era conhecido. O importante é ser uma comissão oficial do Estado, uma coisa sem precedentes na nossa história. A verdade e a memória viraram um direito”, diz o deputado Nilmário Miranda, ex-secretário de Direitos Humanos.
“O objetivo maior é a não repetição, é consolidar a cultura democrática”, acrescenta Nilmário. “As gerações novas não conhecem a história. Qualquer pessoa sabe da Independência, da abolição, da Revolução de 30, mas não sabe nada sobre o golpe de 1964.” Desconforto existe, porque quem praticou violações de direitos humanos jamais esperava que as histórias fossem vir à tona, como ele observa. “A exposição da verdade já é em si um processo. Doloroso, mas necessário.”
A primeira [a primeira?] reação, previsível, foi de que a CNV, formalmente extinta desde 16 de dezembro, não investigou “os dois lados”. Militares de reserva, principalmente, insistiram nesse argumento. “O outro lado pagou com mortes, desaparecimentos, demissões, sequestros, violência até contra bebês. O lado que enfrentou a ditadura já pagou por isso”, reage Nilmário, que ressalta a legitimidade da comissão. “O Congresso aprovou. Quando a presidenta sancionou, estavam lá todos os ex-presidentes, inclusive as Forças Armadas. Todas as correntes ideológicas votaram pela Comissão da Verdade.”
Para a historiadora Maria Aparecida de Aquino, professora aposentada da Universidade de São Paulo e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, questões como desmilitarização da PM e mudanças na formação das Forças Armadas, que se incluem entre as recomendações da CNV, podem até não ser efetivadas ou demorar para acontecer. “Não compete à PM ou as Forças Armadas promover justiça com as próprias mãos. Tem de seguir o trâmite legal. É um avanço que vai ter um andamento mais lento.”
Entre as 29 recomendações da CNV estão questões atuais, como a discriminação, inclusive na legislação, a homossexuais, a figura jurídica do auto de resistência à prisão (mortes e lesões justificadas como reação a ações de policiais), modificação do conteúdo curricular de academias militares e policiais e desvinculação dos institutos médico-legais das secretarias de segurança. O relatório constata que o cenário de graves violações de direitos humanos persiste nos dias atuais. “Embora não ocorra mais em um contexto de repressão policial – como ocorreu na ditadura militar –, a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e mesmo ocultação de cadáveres não é estranha à realidade brasileira contemporânea.”
Nova leitura
A democracia é um processo, observa a historiadora. “Não é algo que se institua pela lei. Você pode derrubar alguém do poder. Mas mudar a sociedade e a mentalidade leva muito tempo.” Do ponto de vista da educação, ela avalia que mudanças já começaram a acontecer. “Hoje já existe uma revisão dos livros didáticos.”
Maria Aparecida também rebate a versão da existência de um “outro lado” a ser investigado. “Quando os militares chamaram as ações de luta armada de ‘terrorismo’, isso tinha outro significado. Temos 720 processos na Justiça Militar contra pessoas, grupos, agremiações. É uma inverdade completa, total e absoluta. Como você vai dizer que essas pessoas não foram julgadas?”
O escritor Luis Fernando Verissimo, em artigo publicado em dezembro no jornal O Globo, é outro a contestar a tese; para ele, se trata de invocar uma simetria inexistente. “Nenhum dos mortos de um lado está em sepultura ignorada como tantos mortos do outro lado. Os meios de repressão de um lado eram tão mais fortes do que os meios de resistência do outro que o resultado só poderia ser uma chacina como a que houve no Araguaia, uma estranha batalha que – ao contrário da batalha de Itararé – houve, mas não deixou vestígio ou registro, nem prisioneiros.”
Verissimo demarca: a principal diferença entre um lado e outro é que os crimes de um lado, justificados ou não, foram de uma sublevação “contra” o regime, e os crimes do outro lado foram “do” regime. “Agentes públicos, pagos por mim e por você, torturaram e mataram dentro de prédios públicos pagos por nós. E enquanto a aberração que levou a tortura e outros excessos da repressão não for reconhecida, tudo o que aconteceu nos porões da ditadura continua a ter a nossa cumplicidade tácita”. Para o escritor, o relatório da CNV, assim como o da CIA nos Estados Unidos sobre torturas, “é um informe à nação sobre o que foi feito em seu nome”.
Trabalho sem fim
Coordenador da Comissão da Verdade de Pernambuco, o ex-deputado Fernando Coelho observa que a lei que criou a CNV “objetivamente definia como objetos de estudo as violências praticadas por agentes do Estado”. A comissão pernambucana tem um banco de dados com 100 mil documentos digitalizados e “comprovatórios de violência”. É um trabalho que não termina, afirma, destacando a importância de levantamento de fatos históricos ocultados durante décadas: “Cada dia a gente descobre uma coisa nova”. Uma dos itens que deve constar do relatório da comissão pernambucana é a persistência do Estado brasileiro, via Itamaraty, em impedir que dom Hélder Câmara recebesse o prêmio Nobel da Paz, nos anos 1970, ou mesmo que chegasse a cardeal.
Outra polêmica reavivada após a divulgação do relatório foi a da Lei da Anistia. Os chamados jornalões publicaram editoriais criticando a Comissão da Verdade, sustentando que a lei aprovada em 1979 “pacificou” o país. Assim, não haveria espaço para punição a agentes do Estado responsáveis por torturas, sequestros e ocultação de cadáveres recomendada pela própria comissão. Mas o Direito internacional entende que tais crimes são imprescritíveis – e a anistia não tem alcance em tais casos.
Deputado em 1979 pelo MDB, Fernando Coelho afirma que a Lei da Anistia não resultou de nenhum entendimento, mas de imposição. “Você não encontra um discurso, um projeto, vamos dizer, que perdoe torturadores. O que houve foi uma confrontação o tempo todo. Impuseram a versão deles (governo). Esse acordo foi uma mentira.”
Depois da aprovação, a oposição ainda tentou emplacar uma emenda de Djalma Marinho (Arena-RN) que ampliava os efeitos da anistia. Perdeu apertado: 206 a 201, com 15 votos de dissidentes do partido oficial. Na interpretação de Coelho, se fosse resultado de acordo, a lei aprovada “deveria ter maioria estrondosa”. A Lei 6.683 foi sancionada às 9h de 28 de agosto pelo então presidente João Figueiredo, diante dos ministros das Casas Civil e Militar, além do comando do Serviço Nacional de Informações, o extinto SNI.
Existe a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal reveja seu posicionamento de 2010 a respeito da Lei da Anistia. Naquele ano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro no caso Araguaia. Agora, o relatório da CNV pode representar uma pressão adicional. A recomendação de rever a lei foi a única que não teve unanimidade, entre as 29 da comissão nacional (teve um voto contra, de José Paulo Cavalcanti Filho). A conclusão foi de que agentes do Estado envolvidos em crimes contra a humanidade não podem se beneficiar da anistia.
“A expectativa é também que o tripé (memória, verdade e justiça) se complete. Não queremos torturar as pessoas que estão vivas, só que elas sejam processadas criminalmente, com direito a ampla defesa”, diz o coordenador da comissão do Rio Grande do Sul, Carlos Guazzelli, que também discorda da questão dos “dois lados”. “O lado que se rebelou foi julgado. Meu pai defendeu vários presos políticos. A ditadura brasileira tinha uma lei para julgar os adversários (Lei de Segurança Nacional) e uma justiça. Todos foram processados e julgados. E além disso foram castigados ilegalmente”, afirma Guazzelli, criticando ainda os principais meios de comunicação. “Todas as famiglias de comunicação sabem, porque cresceram com o regime militar. O outro lado já foi punido. Isso tem de ser contado nas escolas.”
A comissão gaúcha incluiu em suas recomendações a alteração de currículos nas disciplinas de História e Ciências Sociais, nos níveis fundamental, médio e superior, “com a introdução de conteúdos relativos” ao golpe de 1964 e dos 21 anos de “governos ditatoriais que se seguiram a ele”.
Fonte de consulta
O professor Paulo Giovani Antonio Nunes, da Universidade Federal da Paraíba, presidente da Comissão da Verdade no estado – com forte presença das Ligas Camponesas –, acredita que os relatórios da comissão nacional e dos vários colegiados que se formaram no país podem ajudar na discussão sobre questões atuais, como a das policias militares. “No mínimo, chamou a atenção para o período”, observa. Ele considera que o Brasil já tem historiografia consolidada sobre o período e, portanto, não aposta em grandes modificações nos livros didáticos. “Mas acredito que pode ser uma fonte importante a ser utilizada pelos autores de livros didáticos, principalmente alguma coisa nova que a historiografia não tenha esclarecido. Como o relatório também tenta sintetizar todo um período, isso também poderá facilitar a consulta.”
O documento da CNV estará disponível para consulta no Arquivo Nacional e na página da comissão na internet. Em seus últimos atos, o colegiado destacou a importância de compartilhar o conteúdo e, com isso, garantir o chamado resgate da memória. Afinal, mais de 80% dos brasileiros nasceram após o golpe. E 40% da população, ou 80 milhões de pessoas, nasceram depois da ditadura. Uma geração inteira não sabe como foi aquele período.
“O relatório produzido pela Comissão Nacional da Verdade, assim como as recomendações ao Estado brasileiro, devem deflagrar um novo período de lutas aos movimentos sociais que atuam contra a impunidade, com centralidade na luta pela justiça”, diz Lira Alli, militante do Levante Popular da Juventude, movimento responsável, entre outros, pelos “escrachos” organizados para denunciar agentes do Estado responsáveis por torturas.
Um traço civilizatório pôde ser notado antes mesmo da divulgação do relatório, ainda em outubro, quando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Superior Tribunal Militar (STM) assinaram um termo de cooperação para abrir os arquivos dos julgamentos realizados naquele órgão. O chamado Projeto Vozes da Defesa deve dar acesso aos áudios da defesa primeiro aos advogados, sendo posteriormente liberados.
“É evidente que o Estado brasileiro continua em dívida com as vítimas”, afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo o historiador José Luiz del Roio. “Ouvir as vítimas é fundamental para uma comissão que nasceu para dar voz a elas. Então, é claro que as famílias têm razão de estarem insatisfeitas.” Del Roio considera o relatório “um marco” na história do país, por se tratar de um documento de Estado. Além dos crimes do Estado nunca terem sido julgados, ele identifica um “crime original” ocorrido naquele período histórico: “Rasgar uma Constituição, a Carta de 1946, sem nenhuma consulta à sociedade”.
“Os torturadores, assassinos e os financiadores da repressão seguem sem condenações criminais. O Brasil continua a ser um Estado fora da lei no tocante aos direitos humanos”, diz a comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo, comandada pelo deputado Adriano Diogo (PT), em seu relatório parcial, também divulgado em dezembro.
A frustração pela falta de informações novas sobre o paradeiro de desaparecidos e pela ausência de julgamentos continua. Mas o trabalho das dezenas de comissões, não apenas da nacional, ajudou a jogar luz sobre um período ainda obscuro da história brasileira. E pode abrir caminhos à frente.
Um dos momentos emblemáticos de 2014, quando se completaram 50 anos do golpe que derrubou João Goulart, foi o retorno de Jango a Brasília: os restos mortais do ex-presidente, que passariam por perícia, foram recebidos com honras de chefe de Estado. Em dezembro, saiu o resultado das análises: não era possível afirmar que Jango foi envenenado, mas esta também não era uma hipótese descartável. Oficialmente, ele morreu após sofrer um infarto, em 6 de dezembro de 1976.
“Sabíamos de antemão que quando a família decidia esse doloroso passo, com 37 anos decorridos, eram remotas as possibilidades que nós tínhamos”, afirmou João Vicente Goulart, filho do ex-presidente. “Tínhamos a obrigação de tentar. Vamos continuar lutando. Sempre soubemos que tínhamos três meios de chegar à verdade.” Além da exumação e da perícia, a família tem ainda documentos e a investigação do Ministério Público Federal. “Existe um processo aberto”, lembra João Vicente, que ainda tem a expectativa de que agentes norte-americanos, supostamente envolvidos no caso, sejam ouvidos.
A perícia foi coordenada pela Polícia Federal, a pedido da Secretaria de Direitos Humanos e da Comissão Nacional da Verdade. “Os dados clínicos, as circunstâncias relatadas pela esposa, relativamente ao dia e ao momento da morte, são compatíveis com morte natural”, disse na apresentação dos resultados o perito criminal Jeferson Evangelista Corrêa, da PF. Segundo ele, o infarto agudo do miocárdio pode ter sido a causa da morte do ex-presidente, mas “também não é possível negar que a morte tenha decorrido de um envenenamento”.
Outro episódio rumoroso foi a morte de Juscelino Kubitschek, também em 1976, pouco meses antes de Jango. A CNV acolheu a versão oficial, que fala em acidente automobilístico. Para o colegiado, não há evidências de que JK e Geraldo Ribeiro, seu motorista, foram vítimas de homicídios. A conclusão é contestada pelas comissões da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de São Paulo. “A ditadura matou Juscelino. Essa história precisa ser contada”, diz o deputado estadual Adriano Diogo (PT), presidente da comissão da Assembleia, que leva o nome do ex-deputado Rubens Paiva.
 Olho no olho – Durante audiência pública realizada em agosto de 2013 no Rio de Janeiro, um momento mais tenso: o advogado José Carlos Tórtima (em pé), torturado durante a ditadura, encara o major bombeiro Valter da Costa Jacarandá, apontado como torturador: “Nunca é tarde, major, para o senhor se conciliar com essa sociedade ultrajada por essas barbaridades que pessoas como o senhor cometeram”
Olho no olho – Durante audiência pública realizada em agosto de 2013 no Rio de Janeiro, um momento mais tenso: o advogado José Carlos Tórtima (em pé), torturado durante a ditadura, encara o major bombeiro Valter da Costa Jacarandá, apontado como torturador: “Nunca é tarde, major, para o senhor se conciliar com essa sociedade ultrajada por essas barbaridades que pessoas como o senhor cometeram”
Nada consta – Em fevereiro, a CNV encaminhou pedido ao Ministério da Defesa para que as Forças Armadas apurassem desvios de finalidade em sete instalações militares usadas como centros de tortura. Quatro meses depois, Aeronáutica, Exército e Marinha mandaram relatórios em que afirmavam não haver registro de anormalidade. Para Pedro Dallari, coordenador da agora extinta comissão, a resposta significou uma “briga com a verdade comprovada”
 Caso Riocentro – Um dos casos mais polêmicos ocorridos no regime de exceção foi o do Riocentro, no Rio de Janeiro, durante um show em 30 de abril de 1981, em comemoração ao Dia do Trabalho. Uma bomba matou um sargento e feriu um capitão, frustrando um atentado capaz de resultar em tragédia; havia 20 mil pessoas no centro de convenção. A Justiça chegou a aceitar a denúncia do Ministério Público Federal contra seis pessoas envolvidas no caso, mas a ação foi arquivada.
Caso Riocentro – Um dos casos mais polêmicos ocorridos no regime de exceção foi o do Riocentro, no Rio de Janeiro, durante um show em 30 de abril de 1981, em comemoração ao Dia do Trabalho. Uma bomba matou um sargento e feriu um capitão, frustrando um atentado capaz de resultar em tragédia; havia 20 mil pessoas no centro de convenção. A Justiça chegou a aceitar a denúncia do Ministério Público Federal contra seis pessoas envolvidas no caso, mas a ação foi arquivada.
Morte do delator – O coronel reformado Paulo Malhães, em depoimento à CNV em março, afirmou ter participado de torturas durante a ditadura e relatou envolvimento na prisão e desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, morto sob tortura em 1971. Um mês depois, foi encontrado morto no sítio em que morava em Nova Iguaçu (RJ).
 Caso Paiva – O ex-deputado Rubens Paiva foi preso em janeiro de 1971, torturado e morto – provavelmente nas dependências do I Exército, no Rio, segundo a CNV. Até hoje, o seu corpo não apareceu. Em maio do ano passado, o Ministério Público Federal apresentou ação contra cinco militares, por homicídio e ocultação de cadáver. Recorreram, apelando para a Lei da Anistia. Em dezembro, o procurador-geral da República rejeitou a reclamação e pediu julgamento urgente do caso.
Caso Paiva – O ex-deputado Rubens Paiva foi preso em janeiro de 1971, torturado e morto – provavelmente nas dependências do I Exército, no Rio, segundo a CNV. Até hoje, o seu corpo não apareceu. Em maio do ano passado, o Ministério Público Federal apresentou ação contra cinco militares, por homicídio e ocultação de cadáver. Recorreram, apelando para a Lei da Anistia. Em dezembro, o procurador-geral da República rejeitou a reclamação e pediu julgamento urgente do caso.
Vai a julgamento? – O coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra pode ir a julgamento. No início de dezembro, o Tribunal Regional Federal de São Paulo reverteu decisão de primeira instância, que havia extinguido o processo, e encaminhou o caso à Justiça Federal. Além de Ustra, ex-chefe do Doi-Codi, a ação envolve o ex-delegado Alcides Singillo. Eles são apontados como responsáveis pela morte do estudante de Medicina Hirohaki Torigoe, em 1972. Seu corpo nunca apareceu, e ocultação de cadáver é crime permanente e contra a humanidade – ou seja, imprescritível.
 Cinquenta anos depois – O local abriga hoje uma delegacia. Mas durante a ditadura foi um dos mais “eficientes” centros de tortura. Ativistas calculam que passaram por lá até 8 mil presos políticos – e 50 foram mortos, incluindo o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. A antiga sede do Doi-Codi de São Paulo, na rua Tutoia, foi palco de um ato em 31 de março, nos 50 anos do golpe. Ali se desenvolveu a “tecnologia da repressão”, disse Rosa Cardoso, ex-integrante da CNV. No final de 2014, o jornalista Marcelo Godoy lançou livro (A Casa da Vovó) em que detalha o funcionamento do Doi-Codi, a partir de depoimentos de ex-agentes.
Cinquenta anos depois – O local abriga hoje uma delegacia. Mas durante a ditadura foi um dos mais “eficientes” centros de tortura. Ativistas calculam que passaram por lá até 8 mil presos políticos – e 50 foram mortos, incluindo o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. A antiga sede do Doi-Codi de São Paulo, na rua Tutoia, foi palco de um ato em 31 de março, nos 50 anos do golpe. Ali se desenvolveu a “tecnologia da repressão”, disse Rosa Cardoso, ex-integrante da CNV. No final de 2014, o jornalista Marcelo Godoy lançou livro (A Casa da Vovó) em que detalha o funcionamento do Doi-Codi, a partir de depoimentos de ex-agentes.
Visitas ao Dops – A comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo descobriu documentos no Arquivo Público do Estado que registravam a entrada e saída de pessoas no Dops de São Paulo, entre 1971 e 1973. Em alguns casos, o visitante entrava à noite e só saía na manhã seguinte. Alguns assinavam como representantes da Fiesp e do consulado dos Estados Unidos. O prédio no centro de São Paulo, hoje sede do Memorial da Resistência, era um dos principais centros de tortura.

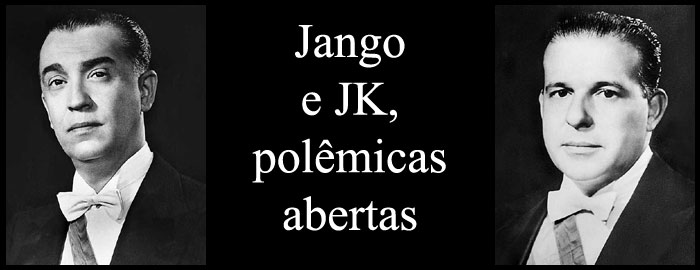

 Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando
Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando